Era uma padaria, hoje de tarde, e ambos pareciam estátuas. Ângela e Mauro sequer se mexiam. Precisei dar-lhes nome, explico a minha interlocutora, sentada ao meu lado: para não afundar nessa tensa presença do esgarçar de um pano, lançada desde onde se sentam, à minha esquerda. Ocupam uma mesa redonda que, em vez de congregar, distancia. (Minha interlocutora alterna um olhar espantado entre o casal sentado à mesa e eu, que não consigo explicar-lhe mais nada e tenho dificuldade em entender o que me diz daqui em diante.)
O pé de Mauro dobra-se, escondido por baixo da cadeira numa vergonha surda, e é imperceptível o movimento que faz, muito de vez em quando. Ângela, olhos verdes que se enchem de água ao de leve, fixa seu olhar na janela, no trânsito da avenida lá fora, nas pessoas que passam através do vidro. Não vê nada, mas ainda assim fixa-se, procurando um ponto de apoio na solidão que a inunda. A sua blusa branca não transpira paz, só uma espécie de substrato do medo que se sente diante do precipício que ela batizou, hoje de manhã, de futuro.
A mão de Mauro está entre as suas, por entre as unhas vermelhas cuidadas. Como o cabelo pintado, destacando o tom marítimo dos olhos. Sim: olhos verde-marítimo. Como as águas que não rolam do seu peito, depois da descoberta. Sei que os olhos de Mauro estão presos aos dela, ainda que ele esteja quase de costas para mim. Vejo-lhe as hastes dos óculos, e pouco mais. O cabelo ralo, o corpo inclinado num desejo aparência de reconciliação, a jaqueta azul escuro combinando com os tênis em seus pés cansados.
Não há palavras, e a minha aflição cresce. Digo para mim mesma (e descubro que foi em voz alta, porque a minha interlocutora olha-me surpresa) que não irei embora antes deles se movimentarem e resolverem as suas pendências.
Como se me ouvisse, Ângela move-se. Afasta-se do encosto da cadeira, abandona as coisas vidradas lá de fora e embala a fixidez das suas retinas nas de Mauro. Não há nada, em seu olhar, a não ser mágoa. E talvez uma palavra entalada na garganta, aquela que a sua boa educação, contida, calada, não permite tornar-se audível. E talvez algo que poderia soar parecido a “como você quer que eu consiga respirar debaixo da pedra que você colocou em cima de mim?”. Mauro é um pequeno animal apanhado em flagrante, a respiração alterada por baixo da jaqueta. Não tem pedras em suas mãos, seus pulsos são fracos, frágeis, débeis. Quase desprezíveis, ouço-me pensar. E preciso escrever, ouço-me dizer.
Passa-se muito tempo, o suficiente para meu cappuccino esfriar. (A minha interlocutora ri-se. Também ela, creio, escreverá ao chegar a casa. A escrita é uma entidade contaminadora.) Vou-me embora antes que a situação afinal se resolva – tenho horário, o trânsito paulistano não perdoa, os alunos estão à espera, há coelhos frenéticos de relógio ao pulso por todos os lados. Mas não posso deixar de carregar esses dois seres, que mais que provavelmente nunca conhecerei, dentro dos meus dedos. Preciso desembrulhá-los, descarregá-los, desembarcá-los assim que chego ao meu destino, numa brevidade urgente de escrita. A eles e à sua tensão sofrida, ao fim que seus olhares prenunciam e que as mãos querem a todo custo retardar retardar retardar.
É assim, às vezes: como se um risco fugaz de ideia pulasse do que está em volta e se acoplasse aos nós dos dedos, e de lá precisasse sofregamente pular novamente, em busca da caneta, do lápis, do teclado. Mais forte do que a própria vontade, os nomes ficcionais agarram-se aos neurônios, criam vida, independentes de repente dos seres de carne e osso que os fizeram emergir das sombras; colocam-se em contato por mil sinapses desenfreadas. A mim, são capazes de me atormentar por horas a fio, a um canto escondido do cérebro que vive dentro do meu coração, até que capitule. Aí, então, sento-me e escrevo até que algo em mim diga “estou satisfeito”. E me deixe descansar, todas as Ângelas e os Mauros em silêncio por algumas horas.

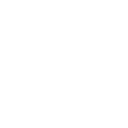









Respostas de 2
Ana paulistana…
Mais uma…