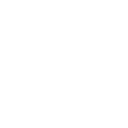“Teve muita graça o Graça dar-me aulas de graça.” Minha mãe tinha um amigo professor, de nome António, que gostava muito de exemplificar de forma prática as possibilidades infinitas dos caminhos classificatórios da língua portuguesa. Gostava também de conversar comigo, e fazia-o sempre com interesse pelo que eu lhe respondia, o que não era a regra das minhas conversas com gente mais velha. Lembrei-me desse exemplo hoje de manhã. Demanda explicação: a frase é do poeta Mário Cesariny, e refere-se às aulas que o músico português Fernando Lopes-Graça lhe deu, num certo momento, de graça, movimento que ele considerou engraçado… Não sei se o António o usou para realmente me mostrar alguma questão gramatical, se para ter motivo de me apresentar o Cesariny. Desconfio, hoje, que o segundo motivo imperava. Faz todo o sentido.
Mário Cesariny não era poeta muito comum de ser lido na altura em que o António o usava, por demais libertário para caber nos estreitos bolsos salazaristas; um dia, ele (o António) não voltou mais, um daqueles desaparecimentos que eu sabia não serem comentáveis, mas devo-lhe o ter sido alfabetizada também através de formas abertas e livres de poesia. Os versos que meu avô me lia e me levava a decorar eram assinados pelos Grandes, como Camões; os que escrevia, obedeciam a rígidas e seguras regras formais, e eu sentia-lhe o sabor do saudável desespero de tentar encaixar seus sentimentos dentro das fôrmas que todos os modernismos já tinham quebrado na altura. A convivência infantil com ambas as possibilidades abriu-me caminhos inconscientes que eu gosto de perceber hoje, com maior clareza, e que inevitavelmente me cobrem de gratidão no mínimo literária, que ainda por cima pode extravasar o pensamento e realizar-se em palavras concretas.
Cesariny é também poeta favorito de outro Mário, este Soares, ex-presidente de Portugal. E, através de um artigo que acabei de ler deste último, antigo, descubro que aquele primeiro já não está entre nós. Volto à sensação de estranhamento que sinto quando leio que determinado poeta morreu, e não sei se é por primeiro achar estranho que estivesse de fato entre o mundo dos vivos, se o estranho é que ele possa passar-se a qualquer outra condição que não a de, simplesmente, poeta. A impressão que tenho é de que a poesia transcende as fronteiras entre os vivos e os mortos.
Mas talvez como tributo, súbita vontade de lembrar “como era mesmo aquele poema das verdades”, vou em busca do livro onde estão alguns dos poemas de Cesariny (só o tenho por aqui em coletâneas, é pena, seria bom tê-lo inteiro com o livro por ele próprio sonhado). Esse poema, de que eu sempre gostei particularmente, leva o título “Discurso do príncipe de Epanimondas, mancebo de grande futuro”. Quem se sentiu tentado a considerar o Cesariny ligado a qualquer surrealismo, acertou – ele é dos expoentes desse movimento em Portugal. Ou era, mesmo que ainda seja difícil falar dele no pretérito que se foi.
Os primeiros versos do tal poema são suficientes para me livrarem do que hoje me atropela:
Despe-te de verdades
das grandes primeiro que das pequenas
das tuas antes de quaisquer outras
abre uma cova e enterra-as
a teu lado
Para efeitos do que eu precisava resgatar internamente, basta-me este trecho. Através dele avanço em várias direções, e por todas elas chego com sentimentos distintos ao que me parece ser um mesmo lugar, o que me dá garantias de que seja realmente onde deva chegar.
Se vou pela porta da direita, logo encontro a desacomodação e o desarranjo. Preciso respirar de forma infinitamente profunda, contar até muito mais do que 10, encontrar o eixo que não ponha a perder os minutos. Se vou pela da esquerda, o Mário pesa mais do que eu própria, e as coisas ficam egoisticamente mais simples. Na desconstrução da verdade que ele pede, adquiro mais leveza e menos concretude; encontro mais e me torno menos distante; alimento-me do seu processo ainda que me pareça sofrido, e agradeço pela quantidade de livros armazenados dentro de mim, aos quais posso apelar para livrar-me dos meus pesadelos, sobretudo quando estes avançam pelo território alheio, e me oferecem ensanguentados os restos daquilo que eu quero inteiro. O certo parasitismo que me leva às releituras não me pesa; convivo com ele uns dias melhor, outros nem tanto.
Mas a lembrança do Mário, alinhada e aninhada junto à do António, envia-me à porta que não me é tão óbvia, não está nem à direita, nem à esquerda. É a porta que me abre a própria cova, e me introduz ao confronto com a incapacidade de dedicar-me ao trabalho de enxada que a cova necessita. Nem desacomoda nem liberta, antes me desnorteia e me reduz ao que realmente sou quando acho que sou menos ou mais. É a cova da própria medida, aquela do latifúndio do João Cabral, a parte que me cabe de mim mesma, quando imagino que possa oferecer-me naquilo que afinal não me pertence. Nessa cova posso enterrar não só as minhas verdades, mas também o alívio que me vem das palavras que os outros deixaram. Preciso parar de tremer quando o cobertor que escolho não serve para o tamanho do frio que me inventei. Retorno da cova e da porta, e estou mais leve por dentro e por fora – não tenho mais frio e nem mais cobertor. Deixei-os a ambos enterrados ao lado do Mário e do António.