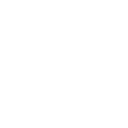Há muitos anos atrás, eu era pequena e os campos de trigo do norte do meu país eram mais altos do que eu. Isso encantava-me. Entrava por aquelas imensidões e a impressão era de ser teletransportada, acedendo a outras dimensões do mesmo lugar de forma instantânea. Nunca tive grandes dificuldades para imaginar coisas assim, mas alguns cenários (os trigais, no caso) propiciaram-me essa vivência repetidamente. Dependendo da hora, tinha a luz do sol como minha aliada, incidindo nas hastes flexíveis de um jeito dourado que as impregnava e quase as fazia cantar.
Tempos depois, visitando os mesmos trigais, desfez-se o encanto. Continuavam da mesma altura, e eu elevava-me sobre eles, vendo o horizonte que antes me era negado. Outros prazeres me aguardavam entre o trigo, que antes nem imaginava, mas uns não suplantaram o outro, mais alto e poderoso do que eu.
Esconder-me em meio aos trigos é a primeira fuga de que me lembro. Ouvia chamarem-me, mas a sensação dourada de estar deitada ao sol entre o trigo maduro, serpenteando ao vento como meu embalo, impedia-me de realmente ouvir, e demorava horas para ser encontrada, porque não havia mesmo como achar-me no meio de todas as hastes, no chão, barriga pra cima, olhos pregados nas nuvens que passeavam no céu azul, entrecerrando as pálpebras para perceber a luz filtrada até chegar ao vermelho angustiante que me fazia fechá-los com força.
Uns dias atrás, tivemos por aqui a sorte de ouvir uma palestra sobre luz. Do quanto se pode perceber (d)as coisas através da incidência da luz nelas, e não através delas mesmas. Gostei dessa possibilidade – mesmo que seja uma leitura enviesada de uma palestra que trouxe muito mais do que isso, perdoem-me os que lá estavam e talvez não se lembrem dessa parte, mas é que num certo ponto eu parei de ouvir e fiquei conjeturando outras coisas. De repente, dei comigo descobrindo que aquilo que desperta o meu lembrar-me dos trigais, é muito mais a luz do que o trigo em si.
De uma coisa a outra, logo estava dialogando comigo mesma, uma parte tentando convencer a outra de que isso está muito próximo da possibilidade de perceber os lugares, as horas, as situações, as pessoas, através do que lhes é menos óbvio. Exatamente!, argumentava uma parte de mim, enquanto a outra se dividia entre ouvir a palestra e essa sua irmã falante, é como a luz que passeia pelas janelas acabadas de lavar, manhã cedo, na dúvida entre o refletir-se a si mesma ou às folhas nas quais incide. Quantas vezes queremos coisas como essas, nem sabemos se refletidas se reflexos, pedestres dos nossos olhos alheios aos movimentos da vontade. E não as alcançamos, porque são feitas de luz. E a luz não se permite o fechar-se por entre os dedos das nossas mãos.
Outro dia de manhã, ainda pensando nessas coisas que são sem o serem, voltando de bicicleta para casa, descobri que, mesmo quando não venta, o vento existe. É só entrar num pasto pelos caminhos sulcados pelo gado, e prestar atenção ao vento que o deslocamento provoca, brincando de perceber o seu atrito melodioso ora num ouvido, ora noutro. (É preciso ficar virando a cabeça de um lado para o outro para sentir isso, o que não deixa de ser um bom exercício também de equilíbrio, porque os caminhos das vacas são um tanto estreitos, do tamanho das suas patas.) Parando, e tendo sorte de não haver vento autônomo, fica ainda mais nítida a sensação, porque é como se o mundo de repente estivesse ali para ser visto e só precisasse de que a bicicleta parasse. O ar não se move, só se ouve o farfalhar das folhas, como gostava de dizer um professor de quem não me lembro o nome quando falava de etimologia e escolhia sempre exemplos aliterativos como esse (era um dom). As coisas param e parece até que nunca se moveram. Não existem, mas ainda assim, um instante, um lapso de tempo, um estreito segundo, nos leva à certeza de que sim: ainda que digam que não, que não se vejam ainda (ou não se vejam mais), essas coisas existem. Por causa da luz que manifestam.
Devia ser um dia daqueles de pensamentos aleatórios, como se alguém apertasse a tecla do meu cérebro que faz com que os pensamentos não sigam a ordem que a lógica lhes quis dar. Pedalando outra vez, lembrei-me da lua cheia deste mês e da sensação de dormir aliviada quando ela se foi, tanta é a dificuldade de lidar com o terreno das emoções em dias de céu noturno tão claro. Emoções por encontros que nos imobilizam porque riem e choram ao mesmo tempo; porque aparecem carregados de passados e presentes mesclados a um Eric Clapton que canta alheio à plateia, longe e perto à mesma mesa, trazendo-nos noutro tempo, na companhia de quem já se foi; porque de repente o passado de alguém vem colar-se ao nosso lado, e insiste persuasivo que o carreguemos junto e assim tornemos mais leve e fácil o encargo de levá-lo adiante pelos próximos tempos, que provavelmente serão os mais duros, e não está no script da vida esquecer algumas coisas. Porque estão cheias de luz.
Saint-Exupéry vem-me à baila no meio de tudo isso, mas agora eu sei o motivo – aquela raposa que se dedica à responsabilidade por aquilo que cativa. Essa raposa às vezes nos acossa, e seus olhos são feitos de luz e brilham. Olhamo-la de lado, fazemos de conta que não é da nossa conta, mas não podemos nada a não ser a fidelidade e os dedos cruzados para conseguir cada tarefa encomendada por nós mesmos. Muitas vezes dependemos da luz com que iluminamos as coisas e da luz com que os outros nos iluminam. Ou da luz com que as coisas estão iluminadas, e à qual talvez devamos prestar mais atenção do que às coisas exatas precisas travadas em si. Talvez eu deva permitir que a minha memória se liberte dos trigais e se remodele sob a sua luz, para que também agora, com os passados próximos, eu possa deslocar-me das coisas e parar-me apenas na luz que as fazem brilhar.