Houve um tempo em que trabalhei vários meses como guia turística numa exposição em Lisboa. Estava a meu cargo um dos andares da Torre de Belém, seção da dita exposição dedicada a explorar e revelar o trabalho artístico das armas das navegações portuguesas. Caí nesse lugar por pura coincidência do destino, até hoje não atino muito bem por que, mas enfim.
Para a preparação desse trabalho, teve o grupo de guias uma formação bastante exaustiva (assim me pareceu aos 17 anos que tinha), mas durante esse tempo foi-me dado entender um pouco de espadas, pistolas, pederneiras e coisas do gênero, para poder entusiasmar quem visitasse meu andar. Vários cursos de história da arte, da guerra, da conquista, da especificidade da arte indumentária, da evolução e significado da simbologia bélica… Não que me lembre de muita coisa, pra ser bem sincera, mas ficou-me assim aquela sensação de que, se por um lado um tema se esgota com imensa dificuldade, por outro, tudo está inevitável e irremediavelmente ligado. Mesmo coisas que nos pareçam muito e muito distantes.
Éramos um grupo grande de guias, de várias partes do mundo onde se fala ou falou português – o Chico de Macau, a Fátima de Goa, o Pedro de Angola (embora seu sobrenome fosse França), o Nuno de Diu e a Ana, gigante amiga, que era de Lisboa mesmo. Deixaram boas lembranças e vários aprendizados. Eu era a mais nova de todos (na realidade, nem poderia muito bem lá estar, por não ter ainda 18 anos, mas enfim outra vez, o fato é que estava, mesmo com os sobressaltos que às vezes enfrentava). A exposição espalhou-se por Lisboa inteira, cada edifício escolhido dedicado a um especial assunto. Ter-me-ia agradado bastante ter ficado locada no Museu de Arte Antiga, prédio imenso cheio de horas e horas da minha infância, ou na Casa dos Bicos, onde ficou locado um ourives por quem me apaixonei perdidamente, assim como da capa vermelho furta-cor que usava pelas ruas da Baixa – mas fui pra Belém e sua Torre, junto a essas pessoas que citei ali em cima, e outras das quais a memória dos nomes me falha.
O fato é que conseguimos criar uma unidade e um sentimento de solidariedade íntima de tal intensidade que nos mudamos vários para a mesma casa, herança de família da amiga Ana, um apartamento imenso na Lapa lisboeta, estranhamente dividido, onde coubemos mais de 12, entre permanentes e visitantes eventuais. Número 22 da Rua Monte Olivete – saudosa, acabei de procurá-la no Google e achei-a, no mesmo lugar, mas com a direção de trânsito invertida; esses estranhamentos que acompanham toda revisitação poupam-nos da monotonia do tempo sem reinvenção. (Perdoem a cacofonia da rima que apareceu.)
Foram meses de equilíbrio, acho eu hoje saudável, entre estudo, trabalho, encontros, descobertas, noitadas e festas. Na altura, quis-me parecer que estas duas últimas imperavam, mas, no fundo, não. O estudo e o trabalho propiciaram que tudo realmente acontecesse; foram o pano de fundo, a base, a possibilidade concreta das outras realizações, mas as descobertas e os encontros foram certamente as coisas mais importantes e deve ser por isso que permanecem indeléveis na minha memória.
E assim espanto-me mais uma vez, e imagino que continuarei espantando-me por toda a vida, com o quanto chegamos a ser nós mesmos através do sermos inventores de outros, e permitirmos que, pela proximidade, os outros nos inventem e reinventem, corrigindo aquelas imperfeições que vamos criando, por não sermos tão fiéis aos nossos espelhos quanto lhes são os amigos que temos ao redor. Se acordamos a cada dia diferentes do que éramos no anterior, a mão de nossos amigos está sobre nós e dá-nos o alento e o consolo de que precisamos ao nos deitarmos na noite a seguir, e encararmos o amanhecer que por aí vem.
Terminei ontem de assistir Che, com Benício Del Toro no papel-título e o Rodrigo Santoro no papel de Raúl Castro. Fiquei muito tempo remoendo uma sensação qualquer ainda sem nome, tentando dar-lhe um sentido no meio de todas as minhas atuais interrogações. Há ocasiões em que só se percebem as coisas, não as nomeamos nem definimos, e por isso não podemos falar delas aos outros. Ainda não se encaixam em nosso puzzle interno. Sabemos que algo importante acabou de ser ouvido, visto, sentido – mas, contudo, escapa-nos o encaixe desse detalhe no todo, qual mesmo a geometria exata da sua transcendência.
Precisei dessa digressão ao passado, lembrando lugares e pessoas que me trouxeram até onde estou hoje, para perceber em que lugar me alimentou esse filme, agregando-o à minha carreta particular de experiências. A sensação de não sermos apenas nós, mas também e às vezes muito mais os outros, ficou-se aqui dentro de mim. A sensação de momentos da vida em que somos muito mais do que o nosso próprio tamanho, por causa dos outros ao nosso lado, sofrendo da mesma substância, porque também eles são do tamanho de outros, eu própria em sua carne amalgamada, e não apenas da própria e minguada medida.
Imagino que por causa dessa sensação eu tenha acordado com a vontade de divertir-me em fazer listas das pessoas que marcaram alguns dos anos da minha vida. Sorrio a cada lembrança que tanto me torna um eu. Os que morreram e os que desapareceram pelas estreitas vielas dos caminhos da vida; os que permanecem ainda que infrequentes; os que ressuscitaram e por isso mesmo se afastaram, pela impossibilidade da revisitação suave; os que me mantêm tanto quanto eu os mantenho, vivos e acordados – todos esses seres colam-se à minha volta, conferindo-me certeza e confiança nos passos que tenho de dar agora, e que não são nem mais difíceis nem mais tortuosos do que outros que já andei. Há outros hoje à minha volta, segredam-me eles de longe, outros que já se anteveem como garantia de que nunca nos é dado o podermos sentir solidão infinita.
Termino ainda sem título esta crônica, e lembro-me de repente das palavras que apresentaram um trabalho do passado, que se tornou mestrado e me abriu tantas janelas para novos mundos. É de lá que me aparecem de novo essas quatro simples palavras, que dizem o mesmo que estas duas laudas, e que carregam atrás de si todos aqueles que as inspiraram e todos aqueles que lhes permitem, às palavras, o revisitar da forma impressa.

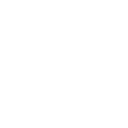









Uma resposta
Muito bem posta essa relação "eu/você". Não é à toa que só há um lugar para ver (e encontrar) o Cristo: o outro. Faz sentido pois no outro nos reconhecemos muito mais do que em nós mesmos, por vezes, como você diz.