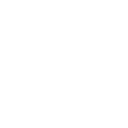De todas as lições de escrita que recebi, aquela que me disse que o enredo e a trama vivem dentro da personagem, foi a que mais me modificou. Porque a vida imita a arte, e foi fácil ir registrando, em papéis aqui e ali: seja ficção, seja realidade, são as ações que determinam o caráter da personagem. As palavras que pronuncia, infelizmente, arriscam-se a ser ilusão bem (ou mal) tecida.
Aquilo que sabemos de cada personagem pode estar recheado de detalhes vívidos, que nos mostram quem e o que são, ou podemos receber apenas alguns traços gerais, um tanto abstratos, que nos sirvam para delinear um perfil – um perfil sem necessidade de interior. Como um saco vazio.
Tanto na vida quanto na ficção, é preciso criar uns e outros tipos, porque afinal não precisamos saber sobre todos tudo. É preciso, muitas vezes, que o seu Joaquim seja apenas o dono da padaria da esquina, que desconfiemos da sua nacionalidade portuguesa, e que saibamos que se levanta muito cedo para garantir o pão fresco à mesa do desjejum. Não afetará a nossa vida não saber nada além disso – mas certamente apenas esse conhecimento nos rouba a experiência do que é o seu Fernando, de fato e ao completo. Para fins de narrativa, não sendo seu Joaquim personagem relevante, nada a mais se faz necessário.
É isso que distingue personagens centrais de personagens secundárias. A questão é saber quem são umas e quem são as outras. E perceber que a maneira como as tratamos precisa, sim, ser diferente. Às ficcionais, nada acontece quando, ao fechar o romance, ainda temos algumas dúvidas. Quincas Borba, antes de ganhar um romance só seu, foi personagem secundária em outro romance machadiano. Nenhum problema até aqui – se o nosso domínio for a escrita. Se nosso campo for a realidade, pode iludir-nos a vida sermos conduzidos pela conversa vazia de quem se diz profundidade.
As personagens secundárias precisam de poucos traços, porque a sua existência enquanto tipos nos basta – podemos chamá-las de planas, porque é aquilo: só têm perfil. As que têm relevância para a trama, ao contrário, demandam um preenchimento consistente, quente, pulsante, cheio de nuances psicológicas que nos permitam conhecê-las melhor do que a nós mesmos, ou quase. São as personagens redondas, cheias de conteúdos.
Sancho Pança e Dom Quixote podem ser nossos exemplos. Cervantes não escreveu apenas uma paródia humorosa aos romances de cavalaria medievais. Cervantes está atualíssimo, porque escreve uma paródia à importância que damos às coisas, às pessoas e àquilo que elas nos mostram de si mesmas.
Sancho Pança é a personagem da qual Quixote depende para estar encarnado. Raramente nos lembramos disso. Dom Quixote nos encanta: o sonhador, o visionário… Mas é Sancho quem lava, passa, cozinha e se preocupa com seriedade e constância das coisas “pequenas” da vida de seu amo. Amiúde não percebe a sua real importância, e mesmo exasperando-se com a testarudez de seu senhor, permanece junto a ele, fiel e amoroso como um cão perdigueiro. Conhecemos, de Sancho, não só o seu exterior baixo, gordinho e montado num burrico, mas também e sobretudo o seu interior – a sua bondade, a sua perspicácia um tanto tosca, a sua lealdade, a sua falta de senso de humor, a sua capacidade de enxergar as coisas da forma reta e lisa que são. Acreditamos em Sancho. E acreditamos porque a pena de Cervantes, lá nos idos do século XVII, nos faz acreditar. Acreditamos porque dele sabemos as coisas importantes que precisamos saber das pessoas nas quais acreditamos.
Também o que sabemos de Quixote é o que o autor espanhol escolhe oferecer-nos – e ele escolhe conduzir-nos engenhosamente a leitura e dar-nos apenas traços vagos de seu “herói”. A visão descontrolada, as alucinações, a valentia questionável: não há traços internos reais onde possamos nos agarrar, porque tudo em Quixote é egocêntrico, desmesurado, ambíguo e abstrato. Somos jogados nos moinhos de vento e, embora não acreditemos, como Quixote, que combatamos monstros, aceitamos a sua megalomania. Não acreditamos em Quixote, até porque ele não nos dá nenhum motivo para isso, mas aceitamos, e gostamos da sua companhia, sentimos uma suave condescendência e solidariedade para com a sua “mansa” loucura, sem perceber o buraco para onde nos arrastam as alucinações mentirosas de quem se acredita acima da verdade do mundo.
Quixote é o império da ilusão. Nada do que diz e pensa é verdade, e pouco do que faz tem impacto real e duradouro sobre o mundo. Ainda assim, é a ele que voltamos os olhos e pensamos “ainda bem que existem sonhadores!”. Porém, Quixote não é um sonhador, mas um ilusionista de si mesmo, um ser que de si pouco revela porque toda a sua parafernália delirante e entusiasmada é criação doentia de sua própria mente. Acredita ter o valor que não tem, ver o que não existe, lutar pelo que não tem validade. E nós aceitamos e meneamos a cabeça, entra século, sai século, granjeando a esse tipo de construção de pessoa (perdão, de personagem) o espaço e a importância que ela não tem. E, enquanto isso, os Sanchos permanecem sob luz secundária, elogiados de forma tímida pela sua dissolução no sonho alheio, ainda que nos incomode silenciosamente a sua dedicação canina e sua inamovível sensação de serem indispensáveis à manutenção da vida dos Quixotes. Por muito que saibam que Dulcineia não é dama e nem Rocinante maravilhoso alazão, é quase que uma condena que levem seus Quixotes a bom porto – ou seja, de volta ao lugar de onde saíram.
Imagem: