Tenho tido muito assunto para escrever, muita vontade de o fazer, e quase nada de capacidade. Demoro a digerir o que acontece, perco-me à procura do elo de ligação entre o que insiste em parecer irreconciliável. A dor alheia soma-se à própria, transcende-a num grau inimaginável, mas é como se todas fossem a mesma, e por isso nada encolhe, nada diminui, nada assume uma potência compatível com a vida de todos os dias. Passam-se as horas e o incômodo fica ali, à espera, um alicerce feito espinho.
A visita a Robben Island tem sido um desses assuntos sem canal de saída. Cada tentativa de transformá-lo em palavras, só papel em branco e olhos cheios d’água. E, enquanto não escrevo, a alma pesa-me toneladas, não consigo bater as asas. Em silêncio e em solidão – porque cada vez mais a minha escrita se faz dessa forma, que preciso aprender a reconhecer como minha – é muito aos poucos que consigo tornar matéria cada forma que sinto.
Robben Island foi, durante anos, um leprosário. Afastada do continente milhas apreciáveis, oferecia as condições ideais para o confinamento da doença que não se entendia. Coisas que não se entendem, e se temem, vivem melhor se longe, fora de contato. Os restos de um cemitério testemunham mais de 15000 mortes de uma só vez. Ao ser fechado, graças à descoberta da cura para a hanseníase, teve seus edifícios demolidos e enterrados, ainda sob o regime do medo ao contágio acidental.
O segundo destino da ilha cheia de focas (daí o nome Robbe, foca em holandês do século XVII) foi o de prisão comum – a mesma distância, as mesmas vantagens. O primeiro preso foi um líder do povo Khoi, de nome Autshumato, preso em 1658 por ter conseguido reaver seu gado, tomado pelos europeus. Foi um dos raríssimos capazes de fugir da ilha, a nado pelas milhas repletas de correntezas contraditórias e congelantes.
 Assim que o regime do apartheid se apercebeu da necessidade de isolar seus opositores, Robben Island foi mais uma vez a escolha perfeita. Mandela foi seu prisioneiro mais famoso – número 488 a entrar em 1964 – mas há outros: Sobukwe, Sisulu, gritos no escuro que nunca ouvimos, porque a história que aprendemos não os conhece. A sonoridade da palavra africana sobe artérias acima carregada de oxigênio, em direção ao meu coração pesado.
Assim que o regime do apartheid se apercebeu da necessidade de isolar seus opositores, Robben Island foi mais uma vez a escolha perfeita. Mandela foi seu prisioneiro mais famoso – número 488 a entrar em 1964 – mas há outros: Sobukwe, Sisulu, gritos no escuro que nunca ouvimos, porque a história que aprendemos não os conhece. A sonoridade da palavra africana sobe artérias acima carregada de oxigênio, em direção ao meu coração pesado.Tinha todas as informações necessárias sobre a ilha-prisão. Filmes, livros, documentários e o meu interesse pessoal pela figura de Mandela fizeram-me reconhecer os lugares, as situações. A cela, o pátio, o barco – tudo é reconhecível. Poderia pensar que, por isso mesmo, o impacto fosse menor, mesmo considerando que ao vivo as coisas sempre diferem das que apreendemos à distância.
Mas nada me preparara para o encontro com Yolande e com M’tumela.
Yolande foi a nossa guia no ônibus que rodeou a ilha – as várias casas onde moram hoje os funcionários do museu Robben Island, e onde moraram os guardas e todos os funcionários da prisão; o grande buraco em que Mandela trabalhou durante todos os anos da sua estada aqui, uma imensa cratera branca a refulgir dolorosamente ao sol; os resquícios da II Guerra em forma de postos de observação e um canhão que jamais foi disparado; as focas; os pinguins. Entre uma coisa e outra, os silêncios de Yolande, marcados e profundos. Sucumbi-lhes e quase não consigo ouvi-la ao nos mostrar a casa em que Sobukwe, primeiro líder do Congresso Nacional Africano, ficou confinado, a seu lado os canis dos muitos cães que guardavam a ilha. Cada canil é maior que as pequenas celas dos presos políticos.
O que mais ouço é seu silêncio ao mostrar-nos a pequena caverna ao fundo da cratera de calcário, onde cada um que sabia ler ensinou um que não sabia. Uma nação moldada na areia do chão, sobre a base da solidariedade, do amor ao próximo e do estar pronto a morrer por ela. Nem me ocorre fotografar-lhe seu belo, expressivo e sereno rosto. Prefiro guardá-la na lembrança. A palavra com que a defino é uma das preferidas do meu avô: altaneira.
M’tumbela esperava-nos à entrada do prédio principal da prisão. Os cicerones de Robben Island são seus ex-prisioneiros; têm a dor tatuada por baixo da pele, e percebe-se, a cada explicação, a expurgação dos maus tratos e das injustiças de anos. M’tumbela ficou preso 8 anos; guerrilheiro, sua função era trazer os revoltosos da fronteira com o Zimbabwe até os locais onde as armas estavam guardadas. Foi preso numa dessas operações. Alguns meses depois de aqui estar, foi destacado para a cozinha. Levou o jantar a Mandela durante anos, sem nunca trocar uma palavra.
M’tumbela fala muito, depressa e com um forte sotaque Xhosa. Faltam-lhe alguns dentes, os olhos foram vítimas de muitas surras e por isso não se concatenam muito bem. Mas tem uma clareza imensa sobre a história do seu país e seu próprio papel, passado e futuro, na sua reconstrução.
Mostra-nos a cela coletiva onde viveu, e a diferente dieta a que estavam submetidos os presos tipo B (“bantu”) e os prisioneiros tipo C (“coloured-asiatic”): a uns, uma fatia de pão; a outros, duas fatias, manteiga e geléia; a uns, uma tigela de sopa; a outros, duas. Até mesmo aqui, ou justamente aqui, as premissas do apartheid vigoravam com força, separando e segregando. Também as roupas diferiam – short e camisa para os presos B, calça comprida, camisa e sapatos para os presos C.
As tentativas de separação foram vencidas com persistência e educação – um povo educado é um povo soberano, dono de seu próprio destino, e o estudo era atividade prioritária, precisando driblar a vigilância e se contentar com o que escapava aos censores.
Aos líderes estava reservada uma seção com mais de 20 celas individuais, cada uma da largura dos meus braços abertos. 18 anos da vida de Mandela passados aqui. Sem comunicação, confinado a uma solitária por qualquer erro: falar no corredor com outro preso, sentar quando deveria levantar, levantar quando deveria sentar. A solitária sem luz e apenas um copo de água por dia.
M’tumela quer mostrar-nos a cozinha. Conta com detalhes todas as tarefas que realizava, e parece revivê-las e mais uma vez e sempre livrar-se delas, pelo poder da palavra que enumera e reconta. M’tumela orgulha-se do seu país, da luta que é a sua, de cada grão de sofrimento pisado. Não consigo perguntar-lhe mais nada – metade de mim enche-se de lágrimas assim que imagino abrir a boca, a outra metade emudeceu.
Voltamos para o barco a pé, e devagar, arrastando os pés porque ainda há tanto a entender. O percurso da África do Sul, conturbado e incompleto, pulsa em todas as esquinas; os poucos anos que nos separam da barbárie estão vivos nas lajes do chão, nas paredes de pedra, no andar das pessoas, nos sorrisos abertos, nas mãos estendidas, no interesse pelo outro. Ubuntu reina e ressoa: eu sou quem eu sou por causa do que todos somos.
Umuntu ngumuntu ngabantu
Uma pessoa é uma pessoa através das outras pessoas – provérbio Zulu

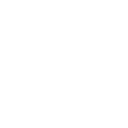









Respostas de 3
É como se eu tivesse ido lá com vc!Abraço,Eduarda
Obrigada, Eduarda – fico feliz! De certa forma, era essa a intenção. Abraço! Ana
I am speechless…. thank you. Carme