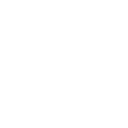Perguntaram-me outro dia, por email, porque guardo tantas lembranças de meu avô. Na verdade, as lembranças que mais guardo são as da minha avó, mas ele vem-lhe atrelado, e posso explicar por que. Um acontecimento de uma noite de tempestade pode dar um pouco essa medida. Para eles talvez não tenha sido feliz, porque afinal tratou-se de um acidente de carro, mas eu lembro-me com aquela espécie de ternura que comove a mais empedernida das pedras.
Foi graças a uma das consultas noturnas de meu avô, num inverno molhado como todos os da minha infância. Uma espécie de tempo como este que não nos largou durante o mês de julho, em que chove, chove e chove, e o único alento é que certamente um dia deixará de chover. Lá, na minha infância, todos os invernos eram assim, com o agravante de que o frio era maior.
Nesse dia, o frio estava cortante e a chuva alfinetante. Lá tocou o telefone, não deveria ser cedo porque já tínhamos jantado. Minha avó anotou o endereço na caderneta, e meu avô bem tentou fingir-se de dormido, que eu percebi pelo canto do olho, abandonando a leitura de um dos livros do Enid Blyton que me acompanharam a infância tanto quanto a chuva.
Mas o dever chama, e encolhendo os ombros, talvez pensando que ainda bem que era longe, daria tempo do mau humor se dissipar, arrastou-se em direção à porta de entrada. Minha avó estava curiosamente animada naquela noite, e lançou um “Ó João… e se nós também fôssemos?”. Eu achei a melhor das ideias, aquele frio, aquela chuva, aquela escuridão, e nós no 2 cavalos do meu avô, chacoalhando como natas a caminho da manteiga. Contente com a indicação aceite, pus casaco, botas e luvas e lá fomos.
As horas de espera na salinha da casa do doente foram a parte menos divertida, porque a luz era pouca e não havia nada para fazer; às vezes os doentes do meu avô tinham crianças em casa, o que era animado, mas não neste caso.
Na volta, a chuva piorara bastante e os relâmpagos assustavam. Meu avô detestava dirigir com chuva forte. Aliás, dirigir não era o maior dos atributos do meu avô, embora o tenha feito até o dia em que morreu, aos 86 anos de idade. A cidade inteira (e não se trata de uma cidade pequena, para os padrões portugueses ao menos) conhecia o citroen vermelho do meu avô, basicamente porque já era o único daquele tipo a existir na cidade. Assim que o viam virando a esquina, os demais motoristas abandonavam a corrente noção de que um “pare” signifique que o sujeito vá de fato parar, ou que uma via preferencial seja entendida como tal por todos os mortais. Aparecia meu avô sacolejando na rotatória da Praça da Rainha, obviamente tendo de parar antes de entrar: quem parava eram todos os demais, dentro da rotatória inclusive, para o deixarem passar, livremente e sem dar por isso, em direção ao cemitério e à visita diária a minha avó. Na Praça da Fruta, a mesma coisa: “Lá vem o Dr. João!”, e logo paravam todos, prontamente. Eu, quando pequena, achava aquilo a maior consideração, embora sumisse quase que para debaixo do banco de vergonha. Já mãe de dois filhos, e acompanhando-o nessas visitas à minha avó já morta, admirava-me com aquela compreensão que fazia com que a cidade inteira, novos e velhos, nascidos lá e enraizados também, entendesse que as leis de trânsito não se faziam para aquele senhor de olhos cinza.
Mas enfim. Nessa noite da chuva, meu avô decidiu passar o volante à minha avó. Decisão sábia, que ela dirigia muito mais cautelosamente do que ele. Parece que a chuva a atrapalhou, e meu avô nervoso, dando indicações que pouco ajudavam, devia obter o mesmo efeito. Eu, no banco de trás, mais calada que um rato, não fossem as sobras serem minhas.
A visão quase nula, e muitos carros em direção contrária. Uma guinada transportou-nos a todos para a berma (adoro essa palavra, sinônimo de acostamento, que não uso há séculos!) e o carro resvalou, quase virando.
Minha avó tinha um problema cardíaco sério, que lhe rendia cuidados constantes por parte de todos; cuidados curiosos, como o de manter uma jarrinha de água com uísque ao lado da cama, para tomar um copinho todas as noites antes de dormir, medida que dizia meu avô ser boa para o coração. (Decidindo cuidar do meu por conta própria, fazia o mesmo de vez em quando, mas acho que nunca ninguém deu por isso.) O susto do meu avô, que poderia ter se transformado em cólera, eu já tinha visto disso e fiquei preocupada, colérico que era, metamorfoseou-se repentinamente num gesto que lhe abriu os braços protetores, fazendo-o lançar-se sobre a minha avó para a afastar do perigo que viesse. Foi tão rápido, e ficaram tão perto um do outro, que os olhos tiveram que fazer um beijo acontecer, tendo-me como única testemunha.
Há pessoas que se sentem desconfortáveis em manifestar (publicamente, pelo menos) o seu carinho e o seu amor, e meus avós estavam dentro desse rol de pessoas. Nesse dia, de um sutil e meigo que quase se perde no meio de toda a chuva, o amor dos dois tornou-se muito palpável, e porque não o era no dia a dia, gravou-se na minha memória, e tornou-me fácil compreender anos depois as saudades absurdas do meu avô, depois que a minha avó morreu.
Lembrei-me de tudo isto hoje, quando fui acordada no meio da madrugada por um telefonema de longe, que me trouxe de volta a voz do amor da minha vida. Agora que o dia amanhece, e eu percebo o quanto os dias se arrastam sem ele a meu lado, percebo-lhe a qualidade simples, inteira e sólida daquele instante de uma noite de chuva e acidente. Com todas as alegrias, dificuldades e promessas que trazem consigo as coisas simples, inteiras e sólidas, porque nunca são, é claro, apenas isso.